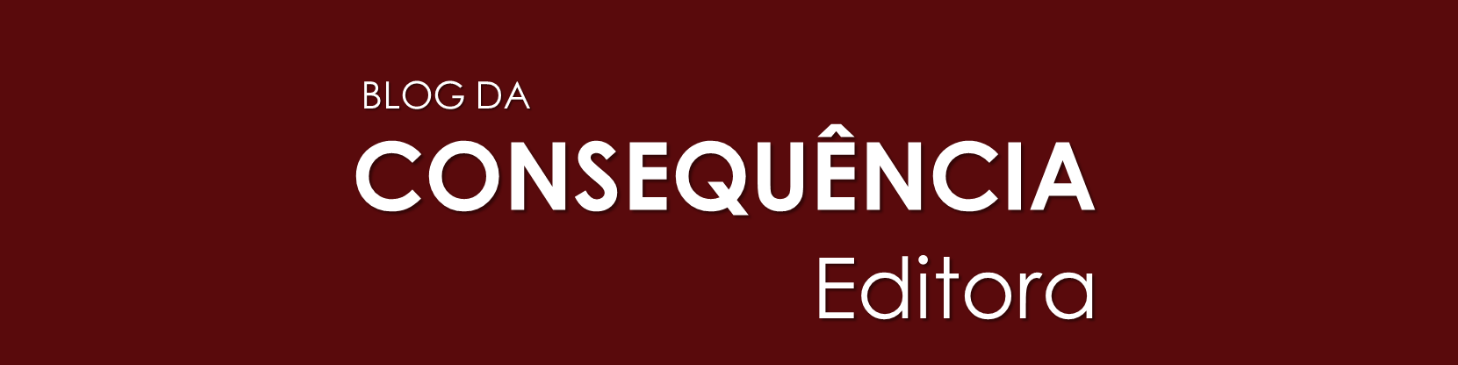Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
13/07/2018
Revista OBSERVATORIUM
Este texto é uma entrevista concedida pela professora Maria Encarnação Beltrão Sposito [1] ao grupo PET do curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no periódico eletrônico Revista Observatorium, mantida por esse mesmo grupo. Há várias seções de envio na referida revista: Artigos, Ensaios, Resenhas, Relatos de experiência, Entrevistas e Ensaios artísticos e culturais. Além disso, é classificada com Qualis A3, conferido por nós na plataforma Sucupira.
Sem mais delongas, segue a entrevista:
Revista OBSERVATORIUM (R.O): Comente sobre a sua escolha pela Geografia e sua trajetória acadêmica.
Maria Encarnação Beltrão Sposito (M.E.S): Bom, primeiro eu queria dizer que eu não fiz uma escolha pela Geografia, embora eu tenha gostado muito do acaso. Eu estudei para fazer vestibular para Arquitetura e Urbanismo na FAU, num período em que o vestibular não era classificatório, era por nota o número de vagas. Como eu tinha nota, mas não tinha vaga, eu fiquei no que se chamava naquela época de excedente. Nos jornais saiu uma notícia que todos os que tinham nota elevada podiam escolher outro curso, e por estímulo dos meus pais eu escolhi a Geografia. No início, eu estudava Geografia pela manhã, e à noite fazia cursinho para Arquitetura, mas rapidamente eu gostei da Geografia e acabei deixando o cursinho. Eu estudei Geografia na UNESP de Presidente Prudente, no período de 1974 a 1977, e depois trabalhei como professora na rede pública e particular de ensino em São Paulo. Em 1980, entrei para o mestrado em Rio Claro, sob orientação do Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira que na ocasião era professor na UNESP. Antes mesmo de concluir meu mestrado, o professor Umbelino se transferiu para a USP. Quando eu ingressei no doutorado em 1986 e como eu gostaria de continuar com ele, eu ingressei na USP. Depois, em 1995 eu fiz um estágio de pós-doutorado na Sorbonne. Do ponto de vista profissional, depois de ter trabalhado por um pequeno tempo no ensino fundamental, eu prestei concurso na universidade onde tinha me formado, e tornei-me professora em Presidente Prudente aos 24 anos.
R.O: Como você avalia o seu período de atuação nos órgãos públicos, tendo em vista a sua experiência na CAPES, no PNLD e no CNPq. Como a Geografia é vista nesses órgãos?
M.E.S: São três experiências diferentes. Na CAPES você integra uma equipe que cuida de fazer avaliação dos programas. Eu fui da equipe de avaliação durante dois períodos subseqüentes, um biênio e um triênio. O primeiro ficou sob coordenação da professora Lúcia Girard, e eu fui adjunta dela. Em um segundo período eu fui adjunta do professor Maurício de Abreu. Foram dois períodos diferentes, mas dois aprendizados grandes.
No CNPQ você é o representante da área, o trabalho é feito mais solitariamente. Agora se analisa pesquisadores, e não programas. O seu trabalho é mais de um organizador de pareceres, mas também têm que e tomar decisões porque as verbas não são suficientes para todos programas. Ora, também é muito bom ler vários projetos do Brasil todo, porque você passa a conhecer a Geografia que se está sendo produzida, e principalmente, você passa a conhecer os pesquisadores pelo pareceres que eles enviam.
O PNLD já é outra situação. Como vocês sabem esse é o programa de Avaliação do Livro Didático. Eu trabalhei com esse programa desde o início, quando ele ainda era realizado pelo Ministério da Educação e Cultura, por convite do Professor Ariovaldo. Logo depois, em 1996 ou 1997, o MEC decidiu descentralizar a avaliação e escolheu as universidades, ou melhor, o membro de cada equipe, como história, geografia, matemática e ciência que eles consideram capazes para coordenar o projeto. No caso da Geografia, eu fui escolhida, e a UNESP então ficou responsável pela avaliação. Eu trabalhei no PNLD durante 10 anos, mais ou menos 5 ou 6 processos de avaliação. No primeiro e no segundo eu fui avaliadora, no terceiro fui coordenadora geral acadêmica, e por último, coordenadora geral nas áreas de história e Geografia. É uma grande experiência porque você tem que trabalhar com a linguagem do livro didático, tem discutir uma adequada transposição de conceitos, aprender a escrever os pareceres de forma adequada para que não haja problemas com as editoras, visto que esse é um projeto que envolve muito dinheiro. Outro ponto que considero positivo é o fato de que passei por todas as fases de construção, pois eu aprendi a fazer e depois me tornei coordenadora.
R.O A Revista Cidades é uma publicação do Grupo de Estudos Urbanos (GEU), e a coordenação editorial se encontra sob sua responsabilidade. Conte-nos um pouco sobre essa experiência.
M.E.S: Justamente quando nós estávamos trabalhando na CAPES, havia naquela ocasião três professores da equipe, éramos sete ou oito, já não me recordo que eram da chamada Geografia Urbana. Esses eram: o Prof. Pedro Vasconcelos, o Prof. Mauricio de Abreu, e eu. Nós conversávamos nas horas do almoço, jantar, ficava uma semana em Brasília trabalhando, e falávamos sobre a ideia de fazer uma revista científica, uma revista interessante, uma revista de qualidade. Como muito perto dessa ocasião a professora Ana Fani tinha feito a proposta de formamos um grupo de estudo, e não de pesquisa que é o GEU, que é o Grupo de pesquisa Urbana, veio essa ideia do Maurício de Abreu, Pedro e minha de junto a esse grupo fazer a revista. Levamos a proposta para os outros membros, que são o Prof. Roberto Lobato Corrêa, Prof.ª Silvana Pintaudi, Prof. Jan Bitoun e um pouco mais tarde, se juntou a nós o Prof. Marcelo Lopes de Souza. Bom, como a ideia foi bem recebida, eu me disponibilizei a começar a ser a editora da revista por um período. Inicialmente esse seria um período de dois anos, que já virou nove, dez, dez ainda não , porque, enfim, eles estão sempre me convencendo que eu tenho que ficar mais um pouco, porque esses colegas estão ocupados outras revista, ou outras coordenações, e porque talvez eles acham que deu certo. Ela é uma revista que não está ligada a nenhuma Universidade. Ela não é uma revista da UNESP, embora eu seja coordenadora, não é da USP, não é da UFRJ, ela é mantida por nós, os professores. Cada um faz uma doação de acordo com suas possibilidades, e a vendagem da revista ajuda um pouco, embora o que seja vendido não é o suficiente para pagarmos os seus custos de produção. Isso é difícil porque no Brasil, especialmente na área de Geografia, não há uma “cultura” de ter o artigo rejeitado, aprovado com muitas ressalvas e depois, devolvê-lo corrigido. A revista às vezes atrasa por falta de artigos, mas não pela falta de material, mas porque dificilmente os artigos são aprovados na íntegra, e eu acho que os autores ficam um pouco chateados e não re-enviam as produções. Ela já está no número 12, e esse ano terá dois números temáticos, bem interessantes, o primeiro é sobre a Cidade e a Festa, e também conta com a coordenação editorial do Prof. Paul Claval. Essa edição sairá bilíngue, sendo em francês e português. Outro número temático, no segundo semestre, com a coordenação da Prof.ª Silvana Pintaudi, vai trabalhar com Políticas Públicas.
R.O: Como coordenadora da ReCiMe, como a senhora avalia o papel das cidades médias no Brasil atual.
M.E.S: Esse papel poderia ser pensado sobre vários pontos de vista. O primeiro meramente quantitativo. O aumento da taxa do número de pessoas nas cidades médias é visto pela diminuição relativa, não absoluta do crescimento metropolitano. O ritmo de crescimento das metrópoles arrefeceu no último período intercensitário, e o ritmo de crescimento das cidades médias aumentaram. Claro que esse também não ocorreu de forma homogênea no espaço. Esse processo é mais forte quando se fala de Brasil, embora eu não o considero mais importante. O que realmente me interessa é verificar como o processo de ampliação das relações econômicas, em escalas nacional e internacional, com o desenvolvimento das tecnologias de informação permitiu que certos processos se desconcentrassem, ou seja, que os efeitos de aglomeração do século XIX no modelo do círculo fordista não fossem imprescindíveis como hoje. Isso torna as cidades mais complexas, porque elas passam a ser o lócus que no século passado eram mais restritas às áreas metropolitanas. Elas se tornam também mais complexas porque os agentes econômicos de influência de alcance nacional e internacional colocam essas cidades num feixe de interação espacial mais complexo. Não é apenas a cidade média e a região que ela comanda.
Eu acho que tudo isso nos impulsiona a realizar estudos sobre as cidades médias, não mais a capital regional, ou sob a ótica da cidade que fará ligação com a cidade pequena próxima, embora essas relações permaneçam, serão somadas a essas novas funções que as tornam mais importantes numa divisão interurbana de trabalho das cidades. Desse ponto de vista, como eu nasci e cresci em São Paulo, uma metrópole, e muito cedo eu fui estudar e trabalhar em Presidente Prudente, eu fiquei muito sensível pelo meu olhar metropolitano para as diferenças e achei que seria muito importante desenvolver um conjunto de estudos que não se apoiassem somente numa transposição das leituras metropolitanas para os outros níveis da rede urbana.
R.O: Qual a importância e o papel da rede ReCiMe no contexto dos estudos urbanos?
M.E.S: Uma primeira coisa muito importante é que essa rede só virá ou viria a ter importância se ela tiver a capacidade, e eu espero que ela tenha, de não olhar para as cidades médias em si, pois isso seria um equívoco muito grande. Trata-se de compreender as cidades no âmbito da rede urbana. Temos que olhar as cidades médias no âmbito da metrópole com cidades pequenas para poder perceber como essas ocorrem no espaço e também tenho que tentar reconhecer as características que são particulares a esse conjunto quando comparadas às metrópoles. O estudo das cidades médias não poderia ser uma “dissidência” dos estudos metropolitanos, muito menos numa contraposição. Ele tem que vir, assim como os estudos das cidades pequenas, como uma complementação. Eu só posso entender uma com nas relações com as outras. No caso das cidades médias há uma crítica quanto ao estudo das cidades médias, pois dizem que isso é apenas o tamanho. Eu afirmo que não se trata apenas disso. Trata-se do fato que dependendo do tamanho, o grau de complexidade de processos difere daquele observado nas cidades maiores ou nas cidades pequenas. É como a quantidade se transforma em qualidade. O que é específico dessa cidade quando eu considero as lógicas de produção do espaço urbano quando ocorrem em metrópole num mercado de 2, 3 ou 10 milhões de habitantes. O que acontece quando essas lógicas se desenvolvem em espaços urbanos de 200, 300 ou 500 mil. Eu acho que as repercussões são totalmente diferentes. A quantidade da população, ou do mercado, na economia capitalista, vão resultar em uma qualidade diferente, ou seja, características, dinâmicas, formas de segmentação do espaço que vão ocorrer não exatamente como ocorrem em cidades maiores. Então, a ReCiMe só poderá exercer um papel se ela for capaz de não se fechar em si, de não pensar a realidade das cidades médias. No início da rede eu e a Prof. Beatriz, a sub-coordenadora da rede, realizamos apenas dois eventos, sendo um em Presidente Prudente, e o outro em Uberlândia. Nós paramos de fazer simpósio porque é importante participar de outros eventos de urbana com outros pesquisadores para debatermos sobre os estudos das cidades médias. Por isso, é que prezamos por nos deslocarmos para os eventos como ANPEGE, SIMPURB e EGAL para não nos fecharmos apenas com nosso gruo de pesquisadores.
R.O: Quais são os principais desafios enfrentados frente ao campo dos pesquisadores para se consolidar o estudo das cidades médias?
M.E.S: São vários. O primeiro é obter financiamento. Essa rede no Brasil tem cerca de 10 Universidades, e algumas outras na América Latina. Ela tem em torno de 80 integrantes, sendo professores e alunos. Nós só podemos oferecer alguma contribuição se formos capazes de sair do plano estritamente teórico, e olhar para as cidades médias no Brasil. Precisamos enxergar as cidades médias no Nordeste, na Amazônia. Uma vez por semestre fazemos o esforço de nos encontrarmos, mas mesmo assim, é um encontro parcial, porque é apenas um membro de uma equipe que comparece, porque os custos são altos. Esse é um primeiro desafio. No Brasil houve uma ampliação das linhas de financiamento, mas a nossa rede ainda é pequena para concorrer aos grandes editais. Outro desafio importante é nos professores mais velhos prepararem os mais novos para que a rede não acabe conosco. Essa foi uma ideia da Beatriz e minha, e a meu ver eu vejo a necessidade de novas lideranças emergirem, junto com novos projetos para que a rede possa se retroalimentar. Outro apontamento é que num Brasil tão complexo como o nosso seria inadequado, uma pena que houvesse apenas um interesse pelos espaços metropolitanos, porque a realidade brasileira é muito diversa. As disparidades de economias regionais advém do período colonialista, em virtude das ilhas de desenvolvimento, e por isso a própria rede urbana atual é muito diversa. Além do mais, é impossível compreender o campo, sem entender as cidades médias, pois durante o processo de modernização do campo e da pecuária, elas desempenharam um papel de comando muito importante. Eu vejo uma relevância muito grande no estudo do tema.
R.O: Tendo em vista o projeto de pesquisa que estabelece estudos comparativos entre Brasil e Cuba, como você avalia a produção urbana nas cidades médias de um país capitalista como o Brasil, e a mesma em um país socialista?
M.E.S: A pesquisa está em estágio inicial, e para mim, a realidade em um país socialista muito diferente de um país capitalista. Tudo o que eu vou dizer nessa entrevista ainda é muito superficial, mas pude perceber que as diferenças são substanciais. Numa sociedade capitalista, embora o Estado tenha um papel importante no ordenamento espacial, esse papel é pequeno frente aos agentes econômicos como proprietários de terra, construtoras, financiadoras e imobiliárias. Em um país socialista isso não acontece, não há esses agentes. Tudo está na mão do Estado. Isso já nos permite compreender uma lógica de produção totalmente diferenciada. Lá eu poderia afirmar que a função residencial é o foco da organização da estrutura urbana, enquanto que no Brasil essa função é muito mais comercial. No caso de Cuba não houve uma influência dos princípios do urbanismo progressista de Le Corbusier. Os bairros são integrados, coesos. Há uma vida social. As nossas cidades são desse ponto de vista muito mais segmentadas, e por tanto pedem mais deslocamento para realizar as atividades diárias. Outro ponto interessante é como ele manteve no centro e ao seu redor a função residencial. O sistema de transportes não é eficaz. A cidade é hiperconcentrada, porque depender de transporte é muito complicado. Também tem pontos negativos como a elevada densidade populacional, mas as cidades não estão passando por processos de dispersão, pelos quais passam as cidades ocidentais. Como nem tudo são flores, em função da propriedade não ter um interesse econômico, por conta da mercantilização, a precariedade material é muito grande. Cuba é uma cidade muito empobrecida, isso, materialmente falando, pois não tem ninguém fora da escola, morando na rua ou passando fome. É uma pobreza no conjunto arquitetônico. Em Havana, isso tem mudado nas áreas centrais por conta de investimentos internacionais. Quando se sai da parte histórica tudo está muito pobre. Cuba como vocês sabem não fez uma opção pelo desenvolvimento industrial. Uma pequena ilha apoiada pelo fornecimento de produtos industriais era a União Soviética, e isso fez com que a indústria não se desenvolvesse, e por isso acabou apoiada na agricultura e no turismo. Na cidade quando um vidro se quebra coloca-se uma fita adesiva para reaproveitá-lo, ou mesmo, quando uma casa está envelhecida é muito caro para pintar, porque a tinta é um produto importado. Por isso, as casas têm uma aparência envelhecida em função da falta de manutenção. A aparência das cidades causa a nós do mundo capitalista, principalmente do Sudeste, pelo patrimônio conservado, uma impressão um pouco triste. São cidades entristecidas pela falta de cor, conservação e manutenção. Outra diferença marcante é o valor que tem os centros das cidades. Para nós esses são os lugares de serviços, lojas e bancos, e para eles também. Há diferença é que em Cuba os centros têm livrarias, exposição de artes, ou um ballet. No Brasil, a maioria desses serviços é oferecida apenas nas metrópoles. A vida cultural é muito estimulada na formação dos cubanos aparece nos centros das cidades, e infelizmente, as nossas cidades perderam essas características. Isso nos faz ficar “envergonhados” da nossa opulência material, e da nossa pobreza intelectual. Os valores são invertidos. Lá, podemos dizer que temos uma maior riqueza intelectual, e uma pobreza material.
R.O: Atualmente, a segurança é um dos aspectos mais discutidos na sociedade em virtude dos temores da população quanto à violência urbana. Como você encara as desigualdades socioespaciais e o fenômeno da insegurança urbana?
M.E.S: Bom, em primeiro lugar é bom que você tenha colocado nesses termos, porque eu concordo com a ideia de insegurança e discordo da ideia de violência. Nós não vivemos em todas as cidades brasileiras um contexto de violência, embora o discurso sobre a violência tenha se ampliado por vários aspectos. Em primeiro lugar porque o número de fatos violentos tem acontecido em maior escala nas metrópoles, ou por causa do circuito das drogas, ou mesmo pela violência da polícia. Por esse motivo, podemos dizer que em 2001 existem mais atos violentos do que em 1981. No entanto, o que o preocupa o nosso grupo de pesquisa é o fato de que o discurso sobre a violência tenha se tornado mais forte do que as evidências da violência. Esse é um discurso que nós chamamos de desterritorializado. Não há uma evidência empírica, confiável de que as cidades sejam mais violentas do que eram há vinte anos atrás. O discurso sobre a violência ganha ressonância por várias razões. Um desses motivos é porque vivemos em um mundo de incertezas, e quando não temos certezas não temos mais medo, e ficamos mais vulneráveis. Em segundo lugar, as políticas públicas de segurança nos países latino americano têm sido menos eficazes, e sendo assim as pessoas tendem a se proteger, a se blindar. Por último lugar, mas não menos importante, podemos dizer que existe a indústria associada à segurança. Venda de sistema, de equipamento, empresas terceirizadas, e a própria. A força econômica dessas empresas acaba por induzir esse temor quanto à segurança. Além disso, esse processo de securitização da cidade, do aumento do controle de segurança, vigilância, no caso da América latina é um modo de separar a sociedade, uma separação social. Os condomínios têm alto grau de homogeneização interna, sejam esses altos, médios ou baixos. Esse é um modo de distinguir a sociedade, mas também uma distinção entre as pessoas que moram nesse condomínio. Eu considero esse como um dos processos mais perversos no âmbito da nossa urbanização, porque ele está se acentuando demasiado, e está invadindo outras esferas da vida social, como por exemplo, os espaços comerciais que tem um sistema de segurança próprio (ex.shopping centers).
[1] Maria Encarnação Beltrão Sposito: Graduada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) Campus de Presidente Prudente (1977), com Mestrado (1984) em Geografia pela UNESP Campus de Rio Claro e Doutorado (1991) em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP). Realizou pós-doutorado na Université de Paris I Sorbonne-Panthéon (1994-1996). Atualmente é Professora Titular do Departamento de Geografia e está credenciada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, ambos na UNESP Campus de Presidente Prudente. Realizou estágios de pesquisa nas Universidades de Lleida, Coimbra e Paris-Cité. É membro do Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAsPERR) e da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe). Tem experiência na área de Geografia Urbana. É bolsista Produtividade do CNPq 1A.