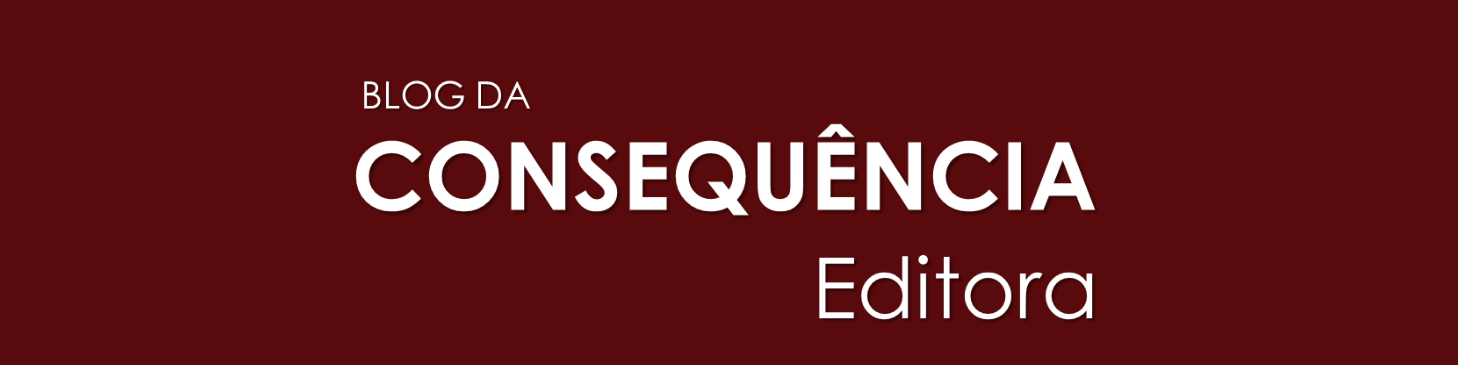Fernando Augusto Mansor de Mattos [1]
2018
Republicado de Revista da ABET
MARTINS, Maria de Sousa Neves; CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira; BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. Política Econômica nos Anos de Chumbo. Rio de Janeiro: Editora Consequência; 2018.

Livro organizado pelos professores/pesquisadores Mônica de Souza Nunes Martins [2], Pedro Henrique Pedreira Campos [3] e Rafael Vaz da Motta Brandão [4] reúne artigos que discutem diversos aspectos da política econômica e das mudanças estruturais ocorridas durante o regime militar que se instalou em 01 de abril de 1964 e que duraria vinte e um anos.
Na Introdução do livro, os organizadores, inspirados em um relato de Ruy Mauro Marini, salientam como que, nos vinte anos de autoritarismo, houve um recrudescimento da desigualdade social, da dependência externa e uma escalada de violência conduzida pelo Estado, deixando sequelas que se estenderiam aos anos seguintes. Estes três elementos se entrelaçam, tendo sido construídos pelas políticas econômicas adotadas desde os primeiros dias do regime que se instalou em abril de 1964.
Conforme ressaltam os autores do primeiro artigo e, também, conforme realçado em diversos outros artigos/capítulos do livro, não é à toa que a reforma trabalhista tenha sido a primeira a ser colocada em prática pelos golpistas de então. Em sua obra clássica,[5] Thomas Skidmore também menciona que uma das mais rápidas decisões tomadas pelo governo de Castelo Branco foi a promulgação da Lei de Greve, que tornava os movimentos paredistas virtualmente impossíveis de serem feitos dentro das normas legais que foram instituídas.
Ficava marcado, claramente, o caráter classista do movimento civil-militar que depôs um presidente que havia sido eleito [6], João Goulart, e que, apesar de todas as dificuldades econômicas, políticas e geopolíticas, implementou diversas medidas em favor da população mais humilde e da classe trabalhadora, entre elas: a instalação do décimo-terceiro salário; a desapropriação de terras para reforma agrária; a criação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), para fiscalizar abusos do poder econômico; o enfrentamento de práticas de sub e superfaturamento de exportações e importações na indústria farmacêutica, ao lado da criação do Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica, para apoiar a produção doméstica de fármacos e remédios, reduzindo a dependência externa do Brasil em relação a vários remédios. Além disso, Goulart havia obrigado os laboratórios a marcarem os preços dos remédios nas caixas, para evitar a cobrança diferenciada no território nacional; vinha tomando diversas medidas para enfrentar os problemas do balanço de pagamentos, assim como os presidentes anteriores já tinham feito. Inclusive com rupturas e enfrentamento especialmente com os EUA, pois as empresas americanas burlavam sistematicamente as regras de remessas de lucros e dividendos, superestimando valores alcunhados como reinvestimentos e, assim, ampliando artificialmente o valor do IDE (Investimento Direto Externo) e, portanto, aumentando o valor sobre o qual seria calculado o percentual que define o limite para as remessas de lucros ao exterior. No plano externo, Goulart vinha estreitando relações comerciais com diversos outros países (entre os quais a China e países europeus e latino-americanos), como forma de melhorar a posição externa brasileira.
Do ponto de vista social, Goulart foi o criador do Plano Nacional de Educação, expandindo o ensino médio em todo o território nacional. Além disso, através do Ministério do Trabalho, e do Instituto de Previdência Social, construiu conjuntos habitacionais que beneficiaram cerca de 100 mil famílias. Também merece registro o fato de que instituiu a aposentadoria especial em função da natureza do serviço, além de ter incentivado a constituição de mais de mil sindicatos rurais. O reconhecimento da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) e a regulamentação do Estatuto do Trabalhador Rural também fazem parte do rol de avanços sociais, então, instituídos por Goulart, em um país ainda predominantemente rural e agrícola.
Já do ponto de vista da infraestrutura, base para o desenvolvimento econômico brasileiro, podemos lembrar que foi durante o breve período Goulart que diversas medidas foram tomadas, tal qual a regulamentação do Código Brasileiro de Telecomunicações, nacionalizando e expandindo os serviços de telefonia, telégrafos, radiodifusão e radioamador no Brasil, ao mesmo tempo em que criava o Conselho Nacional de Telecomunicações, ampliando vigorosamente os serviços de telex, bem como a rede para diversas capitais do Brasil e integrando-a a 72 países. Este contexto abriu espaço para a posterior criação da EMBRATEL, já no governo militar.
Goulart também conseguiu, no seu breve mandato criar a Eletrobrás, construir a Usina Hidrelétrica de Sete Quedas, no Paraná, enquanto iniciava entendimentos com o governo do Paraguai para construir o que seria futuramente a Usina de Itaipu. Foi construído também o Porto de Tubarão (SC) e três usinas siderúrgicas grandes: USIMINAS, COSIPA e Companhia Ferro e Aço de Vitória.
Foi este o governo deposto pelo movimento civil-militar de abril de 1964.
E, conforme alertam os organizadores da obra, o esforço coletivo na produção do livro surge em momento oportuno, em que parcelas da sociedade brasileira, conscientemente ou não, fazem coro pela volta de regimes militares ou de exceção, representando uma “onda conservadora”, nas palavras dos organizadores.
Outra questão que merece ser frisada nesta resenha é que, conforme os organizadores, os diversos pesquisadores envolvidos na produção dos 11 artigos se debruçaram na descrição e análise de diversos aspectos da política econômica adotada entre 1964 e 1985. Mas, é preciso deixar claro que os artigos não se dedicam apenas a descrever as principais medidas, mas procuram interpretá-las à luz de mudanças estruturais, relacionadas a diversos aspectos da vida social e institucional e das transformações da estrutura produtiva, com diferentes ênfases em cada caso. Acertadamente, os organizadores postulam esta diversidade, inclusive em termos de interpretações teóricas, como uma das virtudes da obra:
Atendendo a essas diversas visões e interpretações, não há na obra uma uniformidade teórica, conceitual ou no que tange aos objetivos abordados, respeitando-se as diferentes inclinações analíticas produzidas e a sua riqueza interdisciplinar. No nosso entendimento, essa constitui uma das maiores contribuições da obra, tendo me vista que entendemos que o contato e o diálogo entre os saberes acumulados pelas diferentes tradições disciplinares compõem um aspecto positivo do trabalho científico. O que aproxima os ensaios deste livro é justamente o seu recorte cronológico – o período da ditadura – e o perfil temático – todos os textos tocam na questão da política econômica, mesmo que isso se dê de diferentes formas. Apesar de certa diversidade de orientação conceitual e teórica por parte dos autores desta coletânea, para além do elemento comum do tema do livro, há um elemento em relação a uma postura independente e crítica em relação à ditadura e às políticas aplicadas naquele período de uma forma geral.
Também é importante registrar, nesta resenha, que a obra tem seu embrião em um evento científico organizado em 2014, segundo justamente informam os organizadores da obra. Tal evento teve o mesmo título que seria dado ao livro e foi organizado por importantes e consolidados (palavras minhas) grupos de pesquisa como o Polis (Laboratório de História Econômico-social da UFF) e o LEHI (Laboratório de Economia e História da UFFRJ), que organizaram diversos encontros para debater o período iniciado em abril de 1964. Estes encontros ocorreram na UFF, na UFRJ, na UFRRJ e no Colégio Pedro II, tendo sido organizados e conduzidos pelos professores Almir Pita (UFRJ), Monica Martins (UFRRJ), Bernardo Kocher (UFF), Esther Kuperman (CPII) e pelo professor Théo Lobarinhas Piñero (UFF), infelizmente, já falecido, mas a quem rendemos as devidas homenagens.
Por fim, os organizadores ainda esclarecem que nem todas as pessoas envolvidas nos seminários acabariam produzindo trabalhos para este livro, da mesma maneira que nem todos os autores nele presentes participaram daqueles eventos.
Feitas estas considerações, é importante fazer alguns breves comentários sobre cada um dos artigos que compõem o livro. Desde logo é preciso esclarecer que cada artigo leva o nome de “capítulo”.
No capítulo 1, intitulado “O ‘debate pioneiro’ sobre distribuição de renda no Brasil: como o padrão de acumulação gestado no governo militar de 1964 afetou o perfil distributivo da economia brasileira”, de autoria de Fernando Augusto Mansor de Mattos (Economia da UFF), Pedro Paulo Zahluth Bastos (IE/UNICAMP) e Ricardo Strazzacappa Barone (doutorando pelo IE/UNICAMP), os autores discutem fatores estruturais e os efeitos que as reformas feitas, já, no início do governo militar tiveram sobre a posterior evolução do perfil distributivo brasileiro. Chamam de “debate pioneiro” porque foi a divulgação dos dados do Censo Demográfico de 1970 que abriu um debate mais organizado e ilustrativo sobre a evolução do perfil distributivo brasileiro, uma vez que foi somente ali que se materializou a disponibilidade de dados a partir dos quais foi possível constatar, ao compará-los com os dados do Censo de 1960, que havia ocorrido uma trajetória de piora da, já, elevada concentração da renda no Brasil. Até então, havia consciência de que a desigualdade econômica era enorme no Brasil (desde antes da Ditadura, evidentemente), mas a divulgação do Censo de 1970 tornou o cenário mais claro e permitiu a interpretação de uma série histórica consistente. Os autores, então, procuram descrever e interpretar como reformas como a trabalhista (a primeira e mais importante feita pelos golpistas – como não poderia deixar de ser…), a tributária, a fiscal (que define onde e como realizar os gastos públicos – e, na prática, a quem favorecer) e as de regulação da inserção externa da economia brasileira, em seu conjunto, moldaram certo tipo de acumulação capitalista, marcada por um padrão socialmente excludente de absorção dos frutos do progresso econômico. Os autores procuram compreender como estas reformas estruturais se articulam, montando uma original interpretação estruturalista sobre o fenômeno. Este esforço vai além da recuperação do famoso debate da “Teoria do Bolo” que havia marcado o “Milagre Econômico” e oposto o economista Geraldo Langoni aos, então, economistas heterodoxos, como os jovens José Serra, Pedro Malan e outros, como Paul Singer, Maria da Conceição Tavares, Luiz Gonzaga Belluzzo, sem olvidar alguns brasilianistas como John Wells e Albert Fishlow [7].
No capítulo 2, intitulado “Tons de chumbo: o papel do Banco Central do Brasil no modelo econômico implantado a partir de 1964”, Esther Kuperman, professora do Colégio Pedro II, contextualiza o cenário internacional gerado pelas negociações do pós-segunda guerra que constituiriam as reformas institucionais de Bretton Woods, que moldaram a ordem econômico-financeira internacional desde então, e descreve a atuação dos mais importantes economistas conservadores do Brasil tanto no próprio encontro de Bretton Woods, quanto tempos depois, na condução da política econômica do governo civil-militar instalado em 1964. A autora resgata também a oposição entre os economistas de origem cepalina (como Furtado e Conceição Tavares) e os economistas liberais/conservadores, como Gudin, Bulhões, Delfim e Roberto Campos, no que tange ao enfrentamento da questão da redistribuição de renda (entre outros temas), que não estava contemplada no rol das preocupações destes economistas do sistema. Kuperman foca sua análise de política econômica levando em conta uma importante mudança institucional instituída pelo regime militar, a criação do Banco Central do Brasil, no último dia do ano de 1964, lembrando que o mesmo é um desdobramento das atividades que, até então, vinham sendo conduzidas pela SUMOC (a Superintendência de Moeda e Crédito do Banco do Brasil). A autora sublinha o papel importante da instituição para o desenvolvimento do padrão de acumulação capitalista do Brasil, destacando como teve também função relevante para as transações das empresas estrangeiras com filiais no país, facilitando as remessas de lucros ao exterior (competentemente ilustrada com dados oficiais que revelam a elevada desproporção entre os investimentos feitos no Brasil e as remessas, quase três vezes maiores, feitas ao exterior, tomando-se um conjunto das principais empresas), um antigo problema com que se defrontavam estas empresas e que foi razão de diversas crises políticas nas décadas anteriores.
No capítulo 3, intitulado “O Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI) e o regime ditatorial no Brasil pós-1964”, Renato Luís do Couto Neto Lemos (atualmente pesquisador no Instituto de História da UFRJ) anuncia, logo nas primeiras linhas, que seu trabalho provém de “resultados preliminares em andamento no âmbito” do Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política (LEMP) da UFRJ e do Coletivo + Verdade. O autor lança mão de fontes primárias importantes que esclarecem sobre os interesses internos e externos envolvidos nas articulações políticas e relações econômicas entre grupos empresariais brasileiros, altos estamentos militares, que agora estavam no comando da política institucional e da política econômica, e interesses econômicos presentes na economia dos EUA. Esse amálgama de interesses, que já vinha se gestando desde décadas anteriores, encontra no regime militar um ambiente propício para se organizar e promover espaços para a acumulação capitalista em segmentos produtores de uma indústria de guerra (o “complexo industrial-militar brasileiro”) com elevado poder de geração de renda, favorecendo diversos segmentos da burguesia brasileira e também a internacional (especialmente a estadunidense). Para estes resultados, o autor chama a atenção para a atuação do GPMI na intermediação de diversos negócios entre empresas e o governo brasileiro, destacando a forte presença das empresas estadunidenses, notadamente nos negócios envolvendo os investimentos nas Forças Armadas. O autor encerra a análise resumindo a natureza política e empresarial do “complexo industrial-militar brasileiro”, asseverando que “a natureza empresarial-militar desta aliança se explica por dois dos principais móveis da sua ação política: preservar a ordem capitalista interna diante de supostas ameaças comunistas e ajustar o sistema estatal à dinâmica do capitalismo mundial”.
No capítulo 4, intitulado “Bancos e banqueiros durante ‘os anos de chumbo’”, de Ary César Minella (UFSC), o autor desvenda as relações entre o empresariado, os banqueiros e os estamentos militares que estiveram à frente do regime instalado em 1964, inclusive denunciando a participação de alguns deles na Operação Bandeirante (OBAN). Pesquisador experiente e consagrado, Minella parte dos estudos de sua tese de Doutoramento e agrega informações da Comissão Nacional da Verdade para traçar um quadro da constituição do sistema bancário brasileiro, que é muito esclarecedor do atual cenário de concentração bancária e de crédito no Brasil. Elemento importante das dificuldades que temos, ainda hoje, para conseguir construir uma política econômica que combata a gigantesca desigualdade econômica e social brasileira. O autor também faz uma denúncia política e revela a promiscuidade existente entre os banqueiros e as atividades políticas e de repressão organizadas pelo regime.
No capítulo 5, denominado “Empresariado e política econômica durante a ditadura: o caso dos empresários de obras públicas”, Pedro Henrique Pedreira Campos (UFRRJ) também trata das relações ente grupos empresariais e o poder que se instala em 1964, avaliando especificamente como se deram as relações entre os empreiteiros de obras públicas [8] e o Estado, vinculação que, na verdade, persiste até os dias de hoje, com todas as consequências conhecidas. Neste trabalho ficam claras as relações pessoais e políticas de grupos empresariais e a sistemática da repressão política, seguida das formas de relações entre as principais empresas do setor com os gestores da política econômica. Também neste artigo, o autor denuncia o caráter socialmente excludente da política econômica do período, mencionando falas explícitas de importantes economistas do regime acerca do tema. O autor mostra como a reformulação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o que incluiu a criação do Banco Central do Brasil e do sistema nacional de Habitação (com destaque para o BNH), favoreceu a acumulação capitalista do setor das empreiteiras, em um contexto de expansão da demanda por obras públicas. Esse foi o movimento geral retratado pelo autor, sem deixar de considerar as rivalidades existentes entre lideranças políticas (militares ou não) que defendiam que os financiamentos fossem mais direcionados a grupos nacionais e outros que defendiam os interesses de grupos estrangeiros.
O capítulo 6 tem por título “Governos militares e trabalhadores do campo: políticas públicas, modernização e mudança social”, e lavra de Leonilde Servolo de Medeiros (Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural) (CPDA/UFRRJ). Neste a autora revela como as transformações sociais e econômicas no campo (com destaque para a mecanização e ampliação da produtividade das atividades agrícolas), ao lado de medidas de repressão política, promovem diversas mudanças que acabam por sufocar as antigas instâncias de atuação em favor da reforma agrária, uma das principais bandeiras das Reformas de Base, defendidas no início dos anos 60 por movimentos sociais do campo e setores progressistas da Igreja Católica. Assim como nos dois artigos imediatamente anteriores, este mostra como as relações de poder se entrelaçam com as relações econômicas de grupos específicos do capitalismo brasileiro, mantendo sua atuação e forma de acumulação intacta ou até ampliada mesmo depois que o país conquista a democratização. O papel da reforma agrária, a maneira diferenciada com que a mesma foi tratada antes e depois do golpe, bem como o legado em termos de concentração fundiária para o processo de acumulação capitalista no Brasil fazem parte do rol das percucientes análises apresentadas pela autora. Medeiros também contribui na interpretação da atuação dos movimentos sociais de resistência à concentração fundiária e à modernização conservadora do campo pós-1964.
O sétimo capítulo, que leva o nome de “A crise do ‘milagre brasileiro’ na interpretação do economista Luiz Carlos Bresser-Pereira”, é de autoria de Leonardo Leonidas de Brito (Departamento de História do Colégio Pedro II), um dos principais pesquisadores brasileiros da obra de Bresser-Pereira. O autor pondera que Bresser-Pereira filiou-se “claramente às leituras heterodoxas/estruturalistas” que se puseram a interpretar a crise da economia brasileira ocorrida após 1974, quando a deflagração de uma crise econômica internacional revelou as fragilidades que ainda caracterizavam a economia brasileira. A crise impôs a necessidade de alterar as prioridades da política econômica brasileira que vinha sendo conduzida durante o chamado período do “Milagre Econômico”. O aumento do preço do petróleo (e de seus derivados) impôs estratégias de diversificação das fontes de energia; além disso, o padrão de acumulação de capital deveria mudar, superando aquele que havia caraterizado o período do “Milagre”, baseado na demanda por bens duráveis de consumo e na construção civil (moradias e grandes obras públicas), em cenário então impulsionado por uma expansão vigorosa do comércio internacional. A crise de 1974 não se explicava apenas pela deterioração do cenário externo, mas também pelos desafios que se colocavam para a promoção de mudanças na estrutura produtiva brasileira, fortalecendo os setores produtores de bens intermediários (matérias-primas industriais) e de bens de capitais (máquinas e equipamentos). Este cenário levou à adoção do II PND, até hoje alvo de vívido debate entre economistas brasileiros, entre os quais o próprio Bresser. O estudo de Brito ajuda na compreensão dos parâmetros que delineiam o debate sobre este importante período da industrialização brasileira e reconhece a contribuição de Bresser, organizando e tornando palatável ao grande público a compreensão da crise brasileira que se instala pós-1974, e que gerou um rico debate entre as diversas escolas de pensamento econômico do Brasil.
No oitavo capítulo, Rafael Vaz da Motta Brandão (Departamento de Ciência Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ) apresenta o artigo “Política Energética e dependência econômica: o Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha”, tratando de uma importante querela do governo Geisel, com significativos impactos políticos internos e rebatimentos geopolíticos, tal qual a aproximação do governo militar brasileiro com a Alemanha, o que gerou reação por parte dos EUA. O estudo também tem como mérito o fato de ilustrar um momento econômico e político interno tão complexo, pós-milagre e início do esforço pela abertura política, conduzida por Geisel e Golbery. O autor versa sobre a presença de empresas alemãs (em especial a KWU [9]) na área da indústria nuclear e sobre a então propalada vantagem que o Brasil teria na transferência de tecnologia. No entanto, o autor adverte para o fato de que o Estado brasileiro pouco absorveu em termos de conhecimentos tecnológicos; por outro lado, diversas empresas brasileiras, destacando-se a empreiteira Odebrecht, lucraram muito com a construção das Usinas de Angra I e Angra II. A descrição desse processo é também reveladora da necessidade de diversificação da matriz energética brasileira (destacada na formulação do II PND), tema muito importante e que recebe menos atenção do que deveria pelos pesquisadores do período, segundo a percepção deste resenhador.
No nono capítulo, intitulado “A economia política da inflação dos preços (1964-1984)”, de autoria de Bernardo Kocher (Departamento de História da UFF), discute-se um tema que, a rigor, tem relação com a temática desenvolvida no primeiro artigo. Kocher apresenta uma excelente contribuição para a questão distributiva no Brasil, analisando como a inflação de preços e as mudanças de preços relativos que uma inflação alta, crescente e duradoura acaba inevitavelmente gerando sobre os diferentes segmentos sociais brasileiros desde os anos 1960. O autor finaliza o artigo mirando no Plano Real, e apresenta uma visão original e que muito contribui para o atual debate econômico, pois, mais do que reconhecer o óbvio (não resta dúvida de que é melhor conviver com a inflação pós Plano Real do que com o que tínhamos antes – que, aliás, era o caso não apenas do Brasil, mas de todos os países latino-americanos que haviam vivenciado a crise da dívida externa nos anos 1980 e que foram favorecidos pela mudança do cenário externo ao longo dos anos 1990). Kocher denuncia como a concepção do Plano Real significou uma inserção frágil e subordinada do nosso país à ordem internacional inaugurada pela elevada liquidez financeira mundial a partir dos anos 1990. Entre outras contribuições do trabalho, revela-se um, muito bem feito, histórico da indexação brasileira (fruto das reformas financeiras implementadas desde 1964), que, pela sua natureza, acabaria se “solidarizando” (expressão minha) com o próprio processo inflacionário de tal forma que, nos anos 1980, o problema central de todos os planos econômicos de combate à inflação era justamente como romper com o “vício” da indexação dos preços; na verdade, a indexação foi se tornando cada vez mais emprenhada na formação de preços brasileira, conforme se pôde perceber pelos índices que sucederam a ORTN – indexador original da economia brasileira, criado no processo de elaboração do PAEG (referimo-nos às OTNs, LTNs, e ainda, embora com funções um pouco diferentes das anteriores, a TR e a URV, esta última introduzida na esteira do Plano Real. Importante também realçar que o autor foge do senso comum conservador afirmando que a dívida pública não foi a responsável pela inflação brasileira naquelas décadas, sendo resultado principalmente da escalada indexadora de uma economia cronicamente inflacionária.
O capítulo 10, denominado “Política econômica em tempos de transição política: em busca do ‘milagre’ perdido”, de autoria de Monica Piccolo (Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA), traz uma inovadora e interessante análise de como se deram as disputas entre importantes grupos econômicos ao longo do lento processo de transição política para a Democracia, quando, como se sabe, a economia começou a se desacelerar e diversos projetos que haviam sido inicialmente concebidos pelo II PND do governo Geisel foram abandonados ou redimensionados, em detrimento a anterior trajetória de crescimento econômico que havia caracterizado o período do “milagre” econômico. Lançando mão da obra de Gramsci (com destaque para o conceito de Estado Ampliado formulada por Gramsci), a autora traça um quadro dessas disputas apontando as atuações dos formuladores da política econômica (Ministro de Estado da Fazenda, do Planejamento, presidentes do Banco Central e do Banco do Brasil, considerados por ela como intelectuais orgânicos que representam certas frações da classe dominante brasileira [10], no âmbito do II PND e depois dele) para a compreensão do que ocorreu naquele marcante período de transição democrática e de crescentes dificuldades econômicas gestadas tanto dentro do próprio processo de industrialização brasileira, como também de mudanças geradas pelo cenário internacional adverso inaugurado com a crise do petróleo, em 1973. Ficam claras as relações entre as estruturas de poder, a Política e as dificuldades econômicas ao longo do processo de transição democrática conduzida a partir do governo Geisel, e que não se resolvem, pelo contrário, se aguçam nos mandatos seguintes de Figueiredo e de Sarney.
No derradeiro e décimo-primeiro capítulo, intitulado “A política econômica do Governo Figueiredo (1979-1985): choque e ajuste externo, desequilíbrio interno, ortodoxia, a classe trabalhadora e a oposição do PT”, Gelsom Rozentino (Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ) mostra como as dificuldades vindas do exterior (crise do petróleo de 1979; aumento dos juros americanos e, logo depois, de todos os demais países industrializados;, retração da economia e do comércio mundial) impactaram nas diversas etapas da política econômica do governo Figueiredo, o derradeiro do regime militar e quando a inflação começava a tornar-se cada vez mais crônica e devastadora para as condições de adoção de política fiscal, servindo também como elemento de desincentivo a novos investimentos públicos e privados. O autor pontua como, nesse contexto, o surgimento do PT revela-se um polo de contestação daquela política econômica e de seus efeitos, notadamente no que se refere à questão distributiva – tema que surgiu também em outros artigos. Muitas das propostas contidas nas resoluções do PT e em suas sugestões de política econômica acabariam sendo, pelo menos em parte, absorvidas pela Constituição-Cidadã, como diria Dr. Ulisses Guimarães. O artigo de Rozentino permite compreender, de uma forma original, como se expressaram as contradições da chamada “década perdida”. De um lado, a democratização trazia fatores importantes para a construção de pelo menos um embrião de um Estado de Bem Estar Social no Brasil, através da Constituição Federal promulgada em outubro de 1988; por outro lado, a concomitância entre a democratização e o cenário de crise econômica e dificuldades geradas pelo contexto da crise da Dívida Externa (em um cenário internacional de intensa deterioração, com o desbaratamento da institucionalidade que havia sido constituída em Bretton Woods), com impactos inevitáveis sobre a elaboração de programas de estabilização da inflação. A descrição da negociação da Dívida Externa, desde o início do governo Figueiredo, e prosseguindo pelo mandato de Sarney, ajudam a compreender a situação e complexidades encontradas na “década perdida”.
Um traço comum destes excelentes artigos, escrito por especialistas e pesquisadores experientes que têm dedicado suas longas carreiras acadêmicas estudando tais temas, é que todos eles contribuem para mostrar como um período ditatorial deixa sequelas institucionais e mazelas sociais que não se dirimem facilmente no tempo, aprofundando aquele que é, a rigor, o maior problema brasileiro: a elevada desigualdade, entendida na sua maneira mais ampla e de um ponto de vista multidimensional.
O problema da desigualdade é central na sociedade brasileira e somente pode ser enfrentado com mais e mais Democracia.
Notas
[1] Professor-associado na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, atuando tanto na Graduação quanto no programa de Pós-Graduação (PPGE – UFF). Desenvolve pesquisas na área de Desigualdade Econômica e Distribuição de Renda, Economia Brasileira Contemporânea, Desenvolvimento Econômico, Emprego, Mercado de Trabalho e Pensamento Econômico Brasileiro. Desenvolveu pesquisa intitulada THE DEBATE ON INCOME DISTRIBUTION IN BRAZIL IN THE 2000s IN HISTORICAL PERSPECTIVE, como Visiting Scholar no Institute of Latin American Studies (ILAS), na Universidade de Columbia (Nova Iorque – EUA), sob a supervisão de José António Ocampo, entre julho de 2017 e junho de 2018. Desenvolve estudos internacionais comparados sobre Desigualdade Econômica e Distribuição de Renda, pesquisando casos tanto dos países desenvolvidos, como de países das chamadas “Economias em Transição”, como China e Russia, e também as experiências de países latino-americanos, em especial o caso brasileiro. Atuou como bolsista em regime PNPD pela Assessoria da Presidência do IPEA, participando, como pesquisador-visitante, no desenvolvimento de pesquisa sobre o Setor Público Federal brasileiro e sobre o mercado de trabalho do Brasil, bem como de experiências internacionais comparadas sobre emprego público e políticas sociais. Possui mestrado (1994) e doutorado (2001) em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Foi pesquisador-visitante do IRES (“doutorado sanduíche”), na França, por três meses entre o final de 1999 e o ano 2000. Também trabalhou no DIEESE (1993-1994) e na Fundação SEADE (1994-1995).
[2] Departamento de História da UFRRJ, e também coordenadora do Núcleo de Pesquisa Propriedade e suas Múltiplas Dimensões – NUPEP.
[3] Departamento de História e Relações Internacionais da UFRRJ, atuando também no Programa de Pós-Graduação de Economia Política Internacional da UFRJ e coordenador, ao lado de Rafael Vaz da Motta Brandão, do Laboratório de Economia e História da UFRRJ – LEHI.
[4] Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, além de coordenador do Laboratório de Economia e História da UFRRJ – LEHI, ao lado de Pedro Campos.
[5] Brasil: de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1988.
[6] Mantendo uma tradição que vinha desde a primeira eleição presidencial (definida pela primeira Constituição da República, promulgada em 1891, que também instituiu que a primeira eleição seria indireta), nas eleições presidenciais os eleitores escolhiam tanto o Presidente, quanto seu vice, podendo optar por nomes que não fizessem parte, necessariamente, da mesma chapa. A eleição de 1960 foi a última em que os eleitores poderiam escolher separadamente o Presidente e o vice, ou seja, seu substituto constitucional em caso de vacância temporária ou definitiva do cargo. Naquele pleito, o eleitorado escolheu Jânio Quadros para presidente, mas deu menos sufrágios ao seu vice, Milton Campos, do que ao vice do seu oponente, Marechal Henrique Teixeira Lott. O vice registrado na chapa de Lott era João Goulart, que já tinha sido vice de Juscelino Kubitschek. Assim, os eleitos pelo voto popular foram Jânio Quadros, para Presidente, e João Goulart, para vice-presidente. A próxima eleição presidencial ocorreria apenas em 1989 e, desde então, os eleitores escolhem o presidente e, automaticamente, estão escolhendo o vice registrado na chapa, como ocorre até hoje.
[7] Sobre os argumentos de Langoni (esgrimidos em seu famoso livro “Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil”, editado em 1973, depois do autor ter tido acesso privilegiado e, inicialmente, exclusivo aos dados do Censo de 1970), em defesa do “modelo” econômico do regime militar, e os contra-argumentos de seus críticos, ver o artigo que resenha o referido debate: “Capital Humano ou Capitalismo Selvagem? um balanço da controvérsia sobre distribuição de renda durante o “milagre brasileiro”, publicado na Revista de Economia Contemporânea (IE/UFRJ), vol. 21; n.3; 2017, de autoria dos mesmos pesquisadores que redigiram o primeiro capítulo do livro ora resenhado. Parte importante dos trabalhos que, em meados dos anos 1970, debateram e criticaram as teses liberais/conservadoras de Langoni foram reunidas na clássica coletânea organizada pelos professores Ricardo Tolipan e Arthur Carlos Tinelli, intitulada “A Controvérsia sobre Distribuição de Renda e Desenvolvimento”, que viria a lume, em sua primeira edição, no ano de 1975.
[8] O autor, também organizador do livro, recebeu o prêmio Jabuti, em 2014, na área de Economia pelo livro (“Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988”). O artigo escrito para o livro ora resenhado, segundo o próprio autor lembra já no início do seu trabalho, é resultado de sua tese de Doutoramento, que por sua vez deu origem ao laureado livro, acima mencionado.
[9] Kraftwerk Union, empresa alemã de energia nuclear. [10] O que significa, na maioria dos casos (todos bem relatados) de entrada e saída do setor público, vindo ou voltando para a iniciativa privada, em grandes empresas ou bancos, nacionais ou estrangeiros. De todo modo, fica claro que o II PND contemplava o objetivo de favorecer a presença da empresa nacional, com participação crescente na estrutura produtiva e financeira do país.